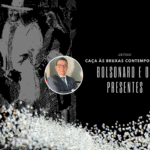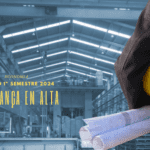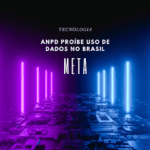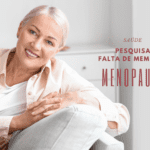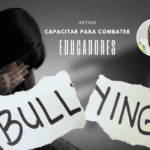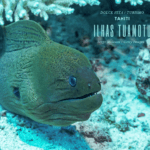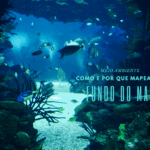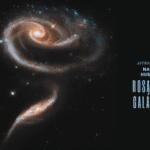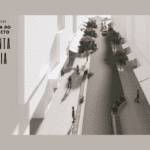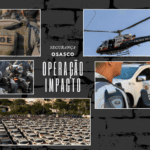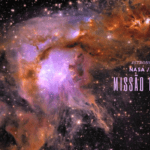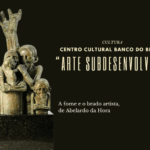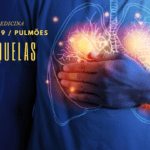Domingo, 26 de junho de 2016, às 11h49
Me tornei mãe há quatro anos e aqui, na aldeia Sawré Muybu, tenho a oportunidade de entrar em contato com uma outra visão de maternidade, ao conviver com as mães e crianças Munduruku.
Greenpeace Brasil | por Rosana Villar*
Me encanta a organização social da comunidade, onde as crianças tem liberdade para ir, vir e brincar quando quiserem. Quem acha que isso as torna “incontroláveis” não poderia estar mais enganado. Elas se auto-organizam em uma sociedade própria, onde os maiores cuidam dos menores e todos zelam uns pelos outros. Cuidar do irmão menor não é uma obrigação, mas um prazer e é comum ver meninas de menos de dez anos carregando seus irmãos pela aldeia, brincando e nadando no igarapé. E todas ajudam nos afazeres da família.
Aqui não existem brinquedos. O que não é um problema, pois o mundo é a brincadeira. As folhas, os frutos, pedaços de pau, sementes, tudo se transforma no imaginário dos pequenos.

A aldeia Sawré Muybu recebe os preparativos para a ação do dia 18/03/2016, em que um banner de 20x30 metros foi aberto próximo ao Rio Tapajós, em protesto à construção de hidrelétricas na região. Durante a preparação, as crianças aproveitam para brincar sobre a lona plástica. Foto: Rogério Assis/Greenpeace.
Os gafanhotos tornam-se pipas, amarrados por linhas. Preso a um pedaço de corda, o velho garrafão de água, cortado ao meio, vira carro, barco, avião e os menores são puxados pelos maiores a toda velocidade. As risadas das crianças são som constante na aldeia.
Subir na árvore, pendurar-se de cabeça para baixo, e balançar é uma das brincadeiras preferidas. As vezes a árvore parece um “pé de criança”, de tantas que se juntam nos galhos para assistir ao futebol dos adultos. A partida dos homens e a das mulheres, clássicos do fim de tarde.
Há também as travessuras, comuns às crianças de todo o mundo. Os pequenos daqui gostam de pegar os “branquelos” de surpresa, com a mão cheia de Urucum, e pintar-lhes os rostos.
E há a liberdade.
Elas transitam pela aldeia e são respeitadas e protegidas por todos os adultos. Penso na minha filha, que ela não pode fazer isso. Em todos os riscos que ela corre na cidade, todas as violências a que ela está exposta e este medo é compartilhado com as mães Munduruku. Para elas, lutar contra a construção da barragem de São Luiz do Tapajós não trata-se de proteger sua própria vida, mas o futuro de seus filhos. De proteger a liberdade e segurança deles, como um rio que corre livre.
Outro dia conversava com Aldira Akai Munduruku, professora de língua materna da comunidade. Ela me disse que nasceu na aldeia, mas passou boa parte da infância em uma cidade próxima chamada Jacareacanga, onde a vida era muito difícil. Seus filhos nasceram em Sawré Muybu. Mas caso a barragem seja construída, eles terão que se mudar e sua aflição ao falar sobre o assunto era quase tangível, de tão instalada.
“As vezes lá as coisas faltavam. Aqui, a terra dá tudo e dinheiro não é um problema”. Na aldeia, os índios trabalham a terra, pescam, caçam, coletam frutos e ervas. O dinheiro que corre, é pouco. Mas o resultado de tanto serviço prestado salta aos olhos: uma imensidão verde sem fim, é floresta que não se acaba mais.
Me desconcentrei por alguns segundos e lembrei de uma foto que ví uma vez, de um grupo de mulheres indígenas sentadas numa calçada de concreto e barro de Altamira, com suas crianças no colo. Algumas das milhares de vítimas dos deslocamentos e inundações provocados por Belo Monte. Quantas vezes teremos que ver estas mesmas cenas? Quantas crianças ainda vão deixar de viver livres? Quantos rios?
Sinto o medo de Aldira, de Margarete e de outras mães Mundurukus. Mas também sinto meu próprio medo, e o de Marias, Graças e Camilas e tantas mães, sobre o futuro de seus filhos. Que mundo vamos deixar para eles?
Junte-se a essa luta e vamos juntos salvar o Rio Tapajós no Coração da Amazônia
*Rosana Villar é jornalista do Greenpeace

“É hora de mudar”; leia artigo da diretora-executiva da ONU Mulheres e subsecretária geral da ONU, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Foto: ONU
Leia mais sobre
ARTIGOS
Leia mais sobre
MEIO AMBIENTE
Leia as últimas publicações